“Jornalismo de Hotel”
10/02/2005
Luis Edgard de Andrade, que, além do Vietnã, cobriu a Guerra dos Seis Dias, entre Israel e os países árabes, em 1967, observa uma diferença na cobertura dos enfrentamentos, causada pela própria transformação da guerra.
“Numa guerra convencional, pressupõem-se certas regras como o respeito aos prisioneiros e aos não-combatentes, protegidos pela Convenção de Genebra. Na Guerra do Vietnã, os correspondentes de guerra eram, de certo modo, ainda respeitados, tanto pelos americanos como pelos guerrilheiros vietcongs. Hoje, como se viu no Afeganistão e agora no Iraque, os jornalistas passaram à categoria dos alvos preferenciais. Matar jornalista dá manchete de jornal no dia seguinte”, analisa.
É essa situação de risco permanente que tem provocado sérias limitações na cobertura da atual guerra do Iraque, restrita agora para os ocidentais ao engajamento e ao chamado “jornalismo de hotel”, expressão alcunhada pelo jornalista Robert Fisk, do diário inglês The Independent.
“’Jornalismo de hotel’ é a única expressão que cabe. Mais e mais, os jornalistas ocidentais em Bagdá estão realizando seu trabalho dos hotéis, em lugar de saírem às ruas das cidades iraquianas”, denunciou Fisk em seu artigo “Risco cria ‘Jornalismo de Hotel’ no Iraque”, publicado na edição de 23 de janeiro de 2005 do jornal Folha de S.Paulo (pág. A23).
As ameaças aos jornalistas ocidentais são tão graves, segundo Fisk, que “diversos jornalistas ocidentais simplesmente não saem de seus quartos, durante seu período como correspondentes em Bagdá”.
“Assim, muitos repórteres se vêem reduzidos a telefonar para as Forças Armadas norte-americanas ou ao governo ‘provisório’ iraquiano de seus quartos de hotel (…). Ou aceitam as informações de seus correspondentes integrados a unidades norte-americanas, ou seja, só retratam o lado norte-americano da situação”, lamentou.
É dessa parcialidade na cobertura que fala a jornalista brasileira Paula Fontenelle no livro “Iraque: A Guerra Pelas Mentes”, em que denuncia a manipulação da mídia por parte dos militares britânicos e americanos durante a guerra no Iraque. Para chegar a essa conclusão, ela entrevistou 18 correspondentes de seis veículos britânicos (The Guardian, The Daily Mirror, The Sun, The Independent, ITV News e sistema BBC), além de coordenadores de mídia do Ministério da Defesa britânico.
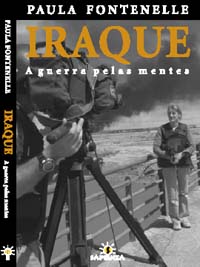 |
|
Capa do livro de Paula Fontenelle “Iraque: A Guerra pelas Mentes”. |
“O sistema de engajados que acompanhavam a guerra junto às tropas resultou numa cobertura que fugia da isenção defendida pela maioria dos jornalistas”, afirma Paula. Segundo ela, a opinião pública foi determinante para a diferença de tratamento da mídia por parte dos aliados.
“Bush não se preocupou tanto com a cobertura do seu país, já que 70% dos americanos apoiavam a guerra. Mas diante da grande resistência antiguerra enfrentada pelo governo Blair, o exército britânico decidiu aumentar o número de vagas para ‘engajados’ nas tropas a fim de conquistar a simpatia dos jornalistas e, conseqüentemente, uma cobertura mais positiva”, explica.
No livro, consta uma declaração do coordenador de Comunicação do ministério da Defesa britânico, coronel David Howard, à autora em que deixa claro as razões da autorização para que um número sem precedentes de jornalistas ficasse engajado às tropas:
“O motivo que nos fez adotar o sistema é porque acreditamos que nos rende reportagens positivas… Os jornalistas queriam ir ao campo de batalha, queriam imagens, e esse sistema era a forma mais fácil de alcançar isso com um certo grau de segurança… nós queríamos uma cobertura positiva e nós sabíamos que conseguiríamos dessa forma. Sabíamos porque sempre conseguimos”.
Para alguns jornalistas, a manipulação dos militares ficou muito evidente.
“Não quis viajar com as tropas americanas por essa razão. Para mim cobrir uma guerra é contar quem são suas vítimas, não quem são os que a provocam. Acho que a informação difundida das unidades militares foi pouca e parcial. Muitas vezes, os jornalistas não tinham como divulgar outro tipo de informação, outras vezes nem se davam conta de que estavam sendo manipulados. Os americanos levaram consigo jornalistas para que contassem um determinado lado dessa guerra e só esse lado da ofensiva”, afirma Beatriz Lecumberri.
O fotojornalista Antonio Scorza, que acompanhou várias patrulhas – americanas e britânicas – ao longo da cobertura, conta que embora não houvesse uma ordem direta para filtrar as informações, existiu sim um controle velado. O jornalista, explica ele, precisava solicitar previamente seu ingresso na tropa e uma vez aceito era como um hóspede dos militares, com os quais precisava manter um bom relacionamento para se manter ali. Estes pesquisavam tudo o que aquele jornalista publicava e deixavam claro que seu trabalho estava sendo observado.
Apesar disso, para Paula Fontenelle, ainda é possível encontrar exemplos de jornalismo isento durante a guerra.
“O melhor modelo a que tive acesso foi o adotado pelo jornal britânico The Guardian. Eles conseguiram ter repórteres de todas as categorias: embutidos (engajados); na Unidade Móvel de Transmissão; independentes espalhados por vários pontos do Iraque; no Centro de Mídia, em Qatar; e no hotel Palestina. Desta forma, o veículo conseguiu contextualizar a guerra com amplitude”, afirma.















