No Dia do Holocausto, conto de Beyla
09/04/2010
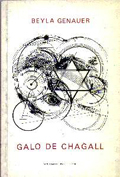 |
Em mensagem enviada de Israel à ABI, o jornalista Nahum Sirotsky lembrou que a próxima segunda-feira, 12 de abril, é o Dia Internacional do Holocausto e torna oportuna a publicação do conto “Eu nunca estive lá”, de autoria de sua mulher, a atriz e escritora Beyla Genauer, nascida em pequena cidade da Polônia da qual ela e a família saíram pouco antes do começo da II Guerra Mundial.
Criador nos anos 50 da revista “Senhor”, uma das mais importantes publicações editadas no País no século XX, Sirotsky conta no e-mail que os judeus da cidade de Beyla foram assassinados pelos nazistas, entre os quais todos com que ela conviveu quando criança. “Em verdade, todos os judeus de todas as gerações posteriores sentem-se como sobreviventes”, diz Sirotsky, que define o conto como “pesadelo recorrente”.
O conto de Beyla Genauer foi incluído em seu livro “Galo de Chagall”, lançado em 1994. Seu texto:
O último vagão, um trem sem fim. Estávamos espremidos como sardinhas em lata. Uso esta expressão porque ela é universal. Não sei como descrever estes vagões sem janelas, sem portas, sem frestas, sem ar, carregados com homens-espantalhos de barbas brancas e compridas. Não eram vermelhas, como quer meu amigo. Eram brancas. Eu vi.
E aquelas mulheres vagas, com os lenços amarradas sob os queixos. Não, eles não eram multicoloridos como insiste o mesmo amigo. Eram negros. Eu vi. Não vi crianças. Onde estariam? E eu, como fui parar lá? Não sei. E meu pai? E minha mãe? E meus irmãos? Onde estariam? Não sei. .
Os homens eram altos, muito altos. Magros, muito magros e todos iguais. Listas. Vestiam listas. Não, não eram como roupas de prisioneiros, que são listadas. Uma espécie de caftans com listas. Listas como as da túnica de seda de José, filho de Jacó. Sim, aquele da Bíblia. Aquele que os irmãos venderam aos egípcios por puro ciúme. Aquele que perdeu a túnica nas mãos da mulher de Putifár ao fugir dos seus anseios sexuais.
As rodas do trem ecoavam listas, lis-tas, lis-tas, lis-tas. Na cabeça os homens não tinham solidéus, o que seria próprio. Ostentavam algo entre sztreimel-casquete-capuz de Klu-Klux-Klan. E os olhos! Olhos de judeus, olhos de judias. Grandes, assustados, apavorados, enterrados na cabeça com olheiras negras que chegavam até as barbas, até os lenços.
Confinados em trens de gado. Gado pensa? Não sei. Mas eu, confinada, comecei a pensar. Penso, logo existo. Se existo, preciso agir. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? As rodas do trem começaram a falar, registrar, registrar, registrar, re-re-re-gis-gis-gis, trar-trar-trar. Esta é, então, a minha tarefa?!
Comecei a me esgueirar de um vagão para o outro. Espremia-me por entre a massa de espantalhos e estendendo as mãos implorava: lápis e papel, lápis e papel. O trem continuou rolando e as rodas do trem ecoando, lá-pis e pa-pel, lá-pis e pa-pel.
Nenhuma presença da policia, mas o medo dela pairava na falta de ar do trem. Proibido escrever. Apagar a memória. Apagar. A-pa-gar, memória, memória, me-mo-ri-a, me-mo-ri-a, a-pa-gar, ga-gar-gar-me-me-mó-mó-mó-ria-a-ri-a ri-a!
Os trapos humanos iam estendendo-me, sorrateiramente, uns tocos de lápis, uns pedaços de carvão, uns pedaços de papéis sujos, pedaços de cartolinas sebentas, postais velhos e amassados, retratos amarfanhados, quem sabe de entes queridos. Testamentos. Testemunhas. Eu? As rodas ecoavam. Você, você, você, você, você.
– Guarda menina, esconde bem!
– Tudo em silêncio, sem som. Eu lia seus lábios descarnados.
– Prometo, prometo, escondo, escondo. Pro-me-to, es-con-do, pro-me-to. Trêmula, eu prosseguia. Balançava a cabeça em sinal de agradecimento, enfiando tudo na minha roupa de baixo, mais imunda que os papéis que recebera.
Os tocos de lápis me espetavam, arranhando os meus seios que mal começaram a desabrochar. Desvairada, continuava para o próximo vagão. Tudo se repetia. Tudo em silêncio. Consciente do perigo. Pe-ri-go. Si-i-lên-cio. Sh-shu-sh-sh-sh-s-s-s.
Lentamente o rolar das rodas foi diminuindo. Parou. É agora! É agora que eles vão subir! Vão me revistar! Eu estava pronta para o sacrifício como o Isaac no Monte Moriah. Mas e os outros? E os meus papéis?!
Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não permita que eles sejam incriminados pelo meu desatino. A minha prece por Deus foi ouvida e o milagre do Moriah se repetiu. Nada. Ninguém subiu. Silêncio tumular. Ninguém sabe o que ainda pode acontecer, melhor é eu voltar para o meu vagão.
Comecei a arrastar-me de quatro para o último vagão. Outro milagre. Num canto, bem no fim do vagão, no meio de todas as barbas brancas, reconheci a barba branca do meu avô. E aqueles olhos meigos, amendoados, sorrindo para mim, exatamente como lá em Tarkov, quando me metia estouvadamente, intrometendo-me entre a sua barba branca e a Guemarah.
– Vovô me dá cinco groshen para comprar balas, dá?
– Claro sheifale claro.
Eu era a única neta que ousava perturbá-lo, quando ele estava perdido em seus estudos talmúdicos. Minha mãe enrubescia, com o meu comportamento moleque. Suja, estufada, agarrei-me a ele e comecei a soluçar.
– Zeide, zeide, zeide.
– Sh sheifale sh.
– Quando isto acabar, eu, tudo vou contar! .
– Sim carneirinho, sim.
– Eu te amo muito zeide.
– Silencio carneirinho, silêncio.
Súbito, comecei a ouvir novamente as rodas do trem, mas não sentia o menor movimento, o barulho das rodas tornava-se cada vez menos audível. Lápis e pa-pel, lá-pis e pa-pel-mor-te-m-o-r-t-e, m-o-r-t-t-e-e-e-e-e.
– Zeide, desligaram nosso vagão.
– Shmá Israel Adonai eloheinu adonai Echad.
Dei um berro vindo do útero. O esforço me acordou, eu estava sozinha numa confortável cama, em um hotel de cinco estrelas, em Copacabana. Meu único filho estava cantando no coro de uma igreja, em Santana.












