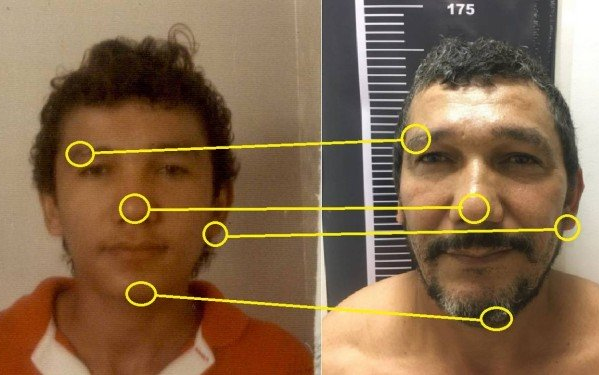Arqueologia do medo
10/09/2022
Por Aline Ribeiro, em O Globo

Quando chegou algemado com o pai ao Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo, o jornalista e ex-preso político Ivan Seixas tinha 16 anos. Era abril de 1971, e o Brasil vivia sob uma ditadura militar que duraria até 1985. Ali, nas instalações onde foram assassinadas pelo menos 50 pessoas durante o regime, Ivan e seu pai, o militante de esquerda Joaquim Alencar de Seixas, apanharam tanto que as algemas se soltaram dos pulsos. A vizinhança ouviu tudo e, aos gritos, pediu que os policiais parassem. Como resposta, receberam uma rajada de tiros de metralhadora para o alto.
— Tudo era feito abertamente, não existia essa figura dos ‘porões da ditadura’. A população em volta do prédio ouvia dia e noite a tortura, os gritos por horas a fio — relembra Seixas. — Precisamos mostrar que aquilo ali existiu, não é coisa de livro de ficção. Aquele lugar corresponde a Auschwitz e Treblinka, os campos de concentração nazistas.
À frente do projeto está a historiadora Deborah Neves, da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Ela explica que à medida que os depoimentos são colhidos, em sua maioria de mulheres, os pesquisadores confirmam o conteúdo de documentos históricos e se deparam com outros olhares sobre a violência. A pesquisa arqueológica possibilitará, segundo Neves, encontrar elementos como vestígios de sangue e material genético, que podem revelar assassinatos de vítimas cujos corpos não foram encontrados.
— Estamos percebendo que os presos e torturados não eram só aqueles ligados à luta armada. Bastava ter uma oposição intelectual ao regime, um círculo de leitura de autores de esquerda ou atuação em movimento sindical ou estudantil — comentou Deborah. — Essas testemunhas têm sido chave para entender a lógica da repressão, e trazido elementos para investigar os próprios edifícios. O prédio tem muito a nos contar.
A arquiteta aposentada Célia da Rocha Paes, de 78 anos, quando era recém-formada, foi presa com um grupo de estudantes por ter feito alguns trabalhos políticos para o arquiteto Rodrigo Brotero Lefèvre. Lefèvre era um dos fundadores do movimento “Arquitetura Nova”, que criticava a produção arquitetônica no Brasil por uma perspectiva marxista e defendia a luta armada. Célia ficou um mês no DOI-Codi sendo interrogada, espancada e levando choques. E outros seis no presídio Tiradentes.
— Depois que saí, fiquei oito anos clandestina, atuando politicamente. Fica um hiato na sua vida. Quando volta, é difícil retomar. Ao reencontrar pessoas daquela época, tinha uns apagamentos. Era uma sensação de que não tinha vida passada. Acho que era um instinto de defesa mesmo — comenta Célia.
Nos dois dias depois de sua chegada ao DOI-Codi, Ivan foi torturado ao lado de Joaquim, com choques, espancamento e afogamento. O filho, no pau de arara; o pai, na cadeira do dragão, assento onde a vítima era colocada nua, com as mãos amarradas e as pernas travadas para trás, e levava choques elétricos. Ivan ouviu o pai ser assassinado e os policiais zombarem da morte. Sua mãe, Fanny, e duas irmãs, Ieda e Iara, também foram levadas à sede do DOI-Codi. As três ouviram as torturas de uma sala no andar de baixo. Uma delas foi vítima de violência sexual. Ivan ficou preso até os 22 anos.
Ivan começou sua militância contra a vontade dos pais. Aos 15 anos, atuava numa organização clandestina de luta armada, o Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT). Depois do tempo preso e torturado, dedicou boa parte de seus 68 anos à militância pela memória das vítimas da ditadura. Foi um dos responsáveis pela abertura da CPI que investigou crimes do regime e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Em 2014, conseguiu o tombamento do antigo DOI-Codi, um complexo de cinco prédios com entrada pela Rua Tutóia, no bairro do Paraíso. Agora luta para que o local se torne um memorial das vítimas do terror do Estado.
O estudante de musicoterapia Jamil Giúdice, de 59 anos, foi o último soldado a deixar uma guarita do DOI-Codi, em 1983, cumprindo o serviço militar obrigatório. Ele diz que não tinha conhecimento do que se passava nas dependências do órgão pouco antes. Seu posto era ao lado do prédio onde morou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi e um dos maiores agentes da repressão da ditadura. Foi um dos ouvidos pela pesquisa e visitou recentemente o prédio
— Era um moleque, não tinha ideia do que havia sido o golpe de 1964. Não havia mais presos políticos no prédio. Só histórias contadas (pelos superiores) para deixar a gente com medo. De que se ouviam gemidos à noite, como se fossem fantasmas — lembra.