Hoje é Dia de Livro
30/05/2023
Por Maria Luiza Busse, diretora de Cultura da ABI
Com racismo e Lava-Jato não tem jogo
O conselheiro da ABI, Mario Vitor Santos, faz eco do livro do construtor Emilio Odebrecht destacando o papel da imprensa a serviço da operação Lava Jato montada para quebrar o Brasil em nome de interesses internacionais. No clássico de Mario Filho, uma história do negro no futebol brasileiro, e a publicação sobre o racismo em Portugal em tempo de alta intensidade de xenofobia na Europa.

A mídia quinta coluna da operação Lava Jato
Mario Vitor Santos*
Para quem acompanhou os percalços do jornalismo nas últimas décadas, o livro de Emilio Odebrecht (Uma Guerra Contra o Brasil, editora Topbooks) se oferece como um testemunho que não deveria causar assombro.
A obra descreve, do ponto de vista dos acusados, inúmeros casos de transgressão aos direitos de acionistas e executivos do grupo Odebrecht durante a operação Lava-Jato.
Como num torniquete, Moro e seus comandados ignoraram limites legais no afã de pulverizar obstáculos grandes e pequenos para alcançar o que Emilio Odebrecht qualifica como objetivo maior: prender Lula.
O livro deixa claro que os abusos de poder exercidos pelos procuradores e o então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, só foram possíveis graças à participação de veículos de comunicação e de jornalistas, que se voluntariaram para servir à operação.
Não há um capítulo do livro, de 316 páginas, que não se refira à maneira como empresas e jornalistas foram imprescindíveis para expor os suspeitos à condenação e à execração pública e para elevar o juiz Moro e o procurador Deltan Dallagnol à categoria de heróis nacionais.
Nas resenhas e críticas ao livro de Odebrecht publicadas nos grandes veículos que participaram dessa corrente de apoio à Lava- Jato nenhuma até agora se deteve sobre aspecto tão frequente no relato de Odebrecht. Há evidência de um incômodo, uma fragilidade, uma incapacidade de defender seus métodos ou de se abrir para um exame de eventuais erros.
Num rasgo de generosidade, escreve Odebrecht, às páginas 259 e 260: “…me vêm à lembrança homens como Roberto Marinho, Otávio Frias e Ruy Mesquita. Tenho certeza de que, se aqui estivessem, não teriam permitido que seus veículos se prestassem a tão lamentável papel. Por outro lado, sei que o serviço à Lava Jato foi a opção de uma minoria nas redações, mas me entristece pensar que a maioria percebeu, admitiu e silenciou – como, aliás fizeram autoridades públicas, Judiciário e lideranças empresariais – por medo”.
Indo além do autor, há que considerar o tema do uso do jornalismo para fins político-partidários.
O fato é que o circo midiático, a publicidade opressiva, a culpabilização de investigados, a incorporação e a difusão de uma mentalidade justiceira contribuíram para um grande desastre jornalístico, com consequências trágicas para o país. Um governo foi derrubado, num processo que veio a dar na eleição de Bolsonaro.
O livro de Odebrecht mostra como uma empresa foi obrigada a definhar, encolhendo de 180 mil para 30 mil funcionários, numa avalanche que arrasou todos os grandes participantes da construção pesada, e também vários outros setores, provocando um prejuízo total da ordem de R$ 600 bilhões, como estimou o site Poder360.
‘Uma Guerra Contra o Brasil’, por abordar as mazelas do jornalismo de maneira tão corajosa, tem sido ocultado pelos veículos da mídia corporativa. É livro obrigatório especialmente para jornalistas desejosos de conhecer as consequências humanas, econômicas e políticas de sua profissão. É parte de uma investigação que se revela obrigatória sobre os métodos desastrosos e os interesses políticos ocultos que guiam a mídia.
A grande trapaça da Lava Jato, proporcionada pelo conluio entre profissionais, veículos de mídia e vastas parcelas do Judiciário, segue pairando sobre o jornalismo brasileiro e ferindo sua credibilidade.
O livro de Odebrecht abre uma devassa que o próprio jornalismo brasileiro deveria ter a iniciativa de instaurar.
(*) Jornalista, conselheiro da ABI, colunista do site Brasil 247, apresentador e editor do programa Forças do Brasil, foi ombudsman do jornal Folha de São Paulo no período de 1991 a 1993 e em 1997.
O negro no futebol brasileiro

Em 1947, o jornalista Mário Filho que dá nome ao estádio de fama mundial equivalente à do rei Pelé, o Maracanã, escreveu sobre a saga do negro no esporte da preferência nacional. O futebol, jogo bretão, foi trazido pelos ingleses para um Brasil cheio de talentos vocacionados de múltiplas cores e classes sociais marcadas pela profunda desigualdade. Mário Rodrigues Filho, criador da crônica do futebol espetáculo no jornal da família onde começou a carreira de jornalista em 1926, também ensaiou uma sociologia da presença negra em mais um dos campos em disputa. Desse Fla X Flu, expressão inventada por ele, nasceu o livro reeditado em 2003 pela Mauad Editora com apoio da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.
O livro tem seis capítulos_ Raízes do saudosismo, O campo e a pelada, A revolta do preto, A ascensão social do negro, A provação do preto, A vez do preto. O prefácio da primeira edição é assinado por Gilberto Freyre, sociólogo que tem lugar entre os intelectuais formadores do Brasil. Na quarta edição, o prefaciador Luís Fernandes, reconhecido cientista político e professor, que ostenta com orgulho o título de torcedor vascaíno, destaca uma passagem do livro: “os clubes finos, de sociedade, como se dizia, estavam diante de um fato consumado. Não se ganhava campeonato só com times de brancos. Um time de brancos, mulatos e pretos era o campeão da cidade. Contra esse time, os times de brancos não podiam fazer nada. Desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de competir, em igualdade de condições, com o pé-rapado, quase analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor.”.
Pode-se dizer que há 76 anos o autor Mario Filho afirmou a consigna atual: ‘Com racismo não tem jogo’. Mauad Editora.
Tribuna Negra – Origens do Movimento Negro em Portugal (1911-1933)
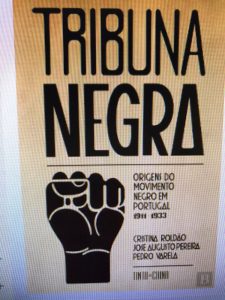
A partir de 1911 em Portugal, ativistas negros fundaram organizações e jornais para combater o racismo. Assim nasceu o movimento negro no país, história quase desconhecida de sucessos e erros agora resgatada em inúmeros arquivos pelos pesquisadores Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela.
Em entrevista ao portal Setenta e Quatro, o trio de portugueses revela que a primeira geração do movimento negro em Portugal foi marcada pelas palavras contradição, repressão e silenciamento. “Em 1911, a I República tinha sido proclamada poucos meses antes e, na efervescência revolucionária, ativistas negros juntaram-se em organizações e redações para combaterem o racismo. Acreditaram no espírito dos ideais iluministas e republicanos, de que os negros finalmente teriam direitos iguais aos brancos. Estavam enganados.
“A elite branca portuguesa proclamava ‘Liberdade, Igualdade e Fraternidade’, mas esses ideais nunca chegaram às antigas colónias. Bem pelo contrário, tropas coloniais adentraram por Angola, Moçambique e Guiné massacrando e espoliando negros para expandir o domínio colonial. O poder político republicano chamou-lhes eufemisticamente ‘campanhas de pacificação’, destruindo quem fazia frente ao domínio de Lisboa. O movimento negro, então composto sobretudo por homens negros da pequena burguesia, viu-se numa situação algo contraditória: defendeu o império colonial – principalmente quando era internacionalmente criticado por causa dos trabalhos forçados ou se via no horizonte a cobiça de outros impérios – enquanto sofria racismo e dominação colonial. Não foi uma particularidade portuguesa, aconteceu também com outros movimentos negros em impérios coloniais.
“Essa geração construiu várias organizações e jornais, alguns dos quais duraram vários anos, defendendo direitos para as populações negras, lutando contra o trabalho forçado, denunciando as limitações à mobilidade social, exigindo mais infraestruturas nas antigas colónias (escolas, hospitais) e, no palco internacional, promovendo o pan-africanismo. O combate ao racismo era transversal. Chegou-se a formar um Partido Nacional Africano e o seu objetivo era claro: fundar uma espécie de representação na metrópole do que se passava nas antigas colónias, para fazer pressão junto do Estado na metrópole.
“Este movimento heterogéneo sofreu cisões, com as suas organizações a multiplicarem-se na luta contra o racismo, e houve aproximações à esquerda da altura, sofrendo depois com desilusões. Ao mesmo tempo, tiveram de suster a repressão da Ditadura Militar, a partir de 1926, e depois do Estado Novo, com a sistematização da dominação colonial. Esta primeira geração lançou as sementes, inclusive pelos seus erros, para as gerações que se seguiram e que deram origem à luta de libertação do domínio colonial português em África. As páginas que este movimento imprimiu durante décadas foram relegadas para o esquecimento nos arquivos do Estado português, ainda dominados pela organização colonial.
“Qualquer sujeito político precisa, antes de mais, de criar uma identidade cultural, social e programática e resgatar a sua história é um passo essencial nesse caminho.” _, afirma a socióloga Cristina Roldão, o historiador José Augusto Pereira e o antropólogo Pedro Varela que formaram o mutirão transdisciplinar para pesquisar as origens do movimento no período de 1911 a 1933. Editora Tinta-da-China.
















